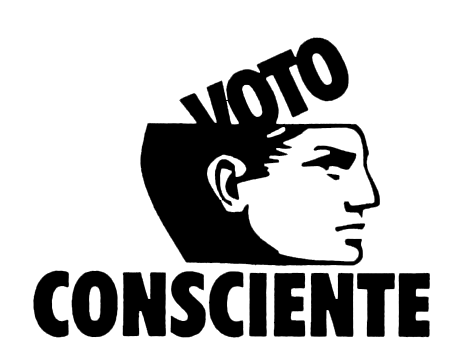Mulheres nas eleições proporcionais: por que a PEC 134 não nos contempla?
Hannah Maruci Aflalo e Michelle Fernandez
A política institucional é historicamente marcada por uma cultura machista e racista que não abre espaço para a diversidade de perspectivas nas decisões e temas tratados na esfera pública. Em outras palavras, a visão que predomina entre os representantes políticos há alguns séculos é, ao menos do ponto de vista descritivo, bastante homogênea: a do homem branco. Isso tem consequências como a falta de representatividade do sistema e a sub-representação dos interesses das mulheres. Portanto, ocupar o espaço político de tomada de decisão é importante para uma representação verdadeiramente democrática e para fazer valer o direito das mulheres.
Nesse sentido, o resultado das eleições de 2020 trouxe um pequeno aumento na representação de mulheres no legislativo, de 13,5% para 16%, das quais menos da metade são mulheres negras, que representam 6,3% dos eleitos (Fonte: TSE, 2020). Embora essa porcentagem ainda nos coloque muito distante da paridade de gênero e raça, todo aumento na representatividade deve ser comemorado.
Podemos atribuir esse avanço a muitos fatores, mas principalmente aos movimentos de mulheres, negros e LGBTQIA+, que se articulam ja há muito tempo para reivindicar a proporcionalidade na representação política. Além disso, podemos afirmar que há uma mudança considerável no eleitorado. Quando vemos mulheres como as mais bem votadas de determinada câmara legislativa, a eleição de 30 pessoas trans em um país que elegeu a primeira e até então única deputada trans há dois anos, e câmaras que não tinham em sua história eleito uma pessoa negra agora elegerem, podemos afirmar que parte do eleitorado está reconhecendo que a proximidade entre a população e os representantes é importante.
Se por um lado, há uma mudança qualitativa relevante em relação ao eleitorado. Por outro lado, em termos numéricos, ainda permanecemos em alerta. O processo eleitoral de 2020 deixa claro que enquanto os partidos políticos – de todos os espectros – continuarem funcionando como instituições que reproduzem as desigualdades da sociedade, não teremos uma mudança estrutural na composição de eleitas e eleitos. Essa reprodução fica explícita na dificuldade alegada pelos partidos em cumprir o mínimo de candidaturas de mulheres (30%), na proliferação de candidaturas laranjas, no não cumprimento da cota de gênero de financiamento e tempo de rádio e TV e, mais recente, na resistência partidária à distribuição igualitária dos recursos entre raças. Se cumprir o mínimo para garantir a justiça do pleito é ainda tão difícil, isso é um reflexo grave de uma estrutura partidária completamente desigual.
Diante das justas reivindicações que emergem mais uma vez por parte dos movimentos de mulheres por medidas que garantam um aumento da representação política de mulheres nos parlamentos, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, promete colocar em pauta a PEC 134. Mas quais seriam seus reais efeitos?
A referida PEC garante a reserva de assentos para mulheres nos parlamentos, uma regra que poderia ser muito eficiente para corrigir as desigualdades históricas de gênero e raça. No entanto, a proposta apresenta porcentagens muito baixas e distantes da proporção da população. No texto, consta a reserva de cadeiras para mulheres a partir de 10%, com aumento gradual, para 12% na legislatura seguinte, e atingindo o patamar máximo de 16% na próxima. Se por um lado, garantiria que câmaras que não possuem uma única mulher (mais de 900 nessas eleições) passariam a ter esse percentual mínimo, por outro, mudaria pouco o cenário geral dos espaços de representação. Das 26 capitais brasileiras, 17 já elegeram ao menos 16% de mulheres e apenas 3 não atingiram 10% (Fonte: TSE, 2020).
Um outro ponto é o “fenômeno” da transformação do mínimo em teto, frequente quando tratamos de políticas afirmativas. As regras vigentes instituem o mínimo de 30% de candidaturas, do financiamento e do tempo de rádio e TV para um dos gêneros. Na prática, o que vemos é que esse mínimo torna-se um limite ao redor do qual a porcentagem de candidaturas de mulheres flutua, sem se distanciar. Assim, a PEC, cuja proposta de reserva de assentos não chega nem a esses 30%, muito provavelmente estabilizará a porcentagem de mulheres eleitas de até 16% como um teto, que nos vemos impelidas a aceitar por ser “melhor do que nada”.
A atuação das mulheres na política vê-se restringida ainda pelas limitadas oportunidades políticas que se abrem a elas. Se o intuito da lei é realmente garantir mais espaço para mulheres na política, a justiça da representação e a verdadeira democracia, é razoável que a reserva de assentos corresponda ao tamanho que esse grupo representa na sociedade. Além disso, a PEC 134 não menciona a reserva de assentos em termos de raça, uma das desigualdades mais agudas da sociedade brasileira. Se mulheres são 51% da população e 28% são mulheres negras, não é utópico reivindicar essa proporcionalidade nas legislaturas. Não podemos continuar nos contentando com tetos baixos.