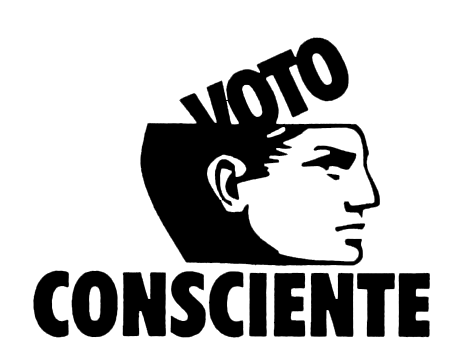Um sopro de esperança: o PL que avança na luta contra o racismo ambiental
Carolina Corrêa
Século XXI, 2022, e nós ainda estamos lutando por justiça ambiental. Pode até parecer mentira, mas foi na semana passada que finalmente se colocou em pauta na Câmara dos Deputados a proibição da construção de indústrias poluentes em Unidades de Conservação e em terras indígenas e quilombolas – sim, semana passada.
No dia 3 de junho, pouco antes do Dia Mundial do Meio Ambiente, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe a implantação de empreendimentos industriais que emitem óxidos de nitrogênio (NOx) e óxidos de enxofre (SOx) dentro de terras indígenas e quilombolas ou de Unidades de Conservação – com exceção das áreas de proteção ambiental (APAs), onde os empreendimentos deverão observar o respectivo plano de manejo.[1]
O texto aprovado foi um substitutivo apresentado pelo relator Rodrigo Agostinho (PSB-SP) em relação ao Projeto de Lei 8631/2017, do deputado Nilto Tatto (PT-SP). O projeto altera a Lei 6.803/1980 (que dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição) e a Lei 9.985/2000 (que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC).
Até o momento, as leis que regulam a construção desse tipo de empreendimento se baseiam, principalmente, nos estudos de impacto ambiental e seus respectivos relatórios (EIA/RIMA) e no processo de licenciamento ambiental, que são responsabilidade, sobretudo, dos organismos estudais competentes – o que, muitas vezes, funciona de modo pouco eficiente e padronizado e/ou sofre grande influência do lobby político e econômico local.
O fato central é que num momento em que se observa nitidamente o aumento das ações de garimpo e grilagem em terras indígenas e quilombolas, a aprovação desse projeto representa um sopro de esperança nos que se refere a justiça socioambiental e, principalmente, no combate ao racismo ambiental.
O termo racismo ambiental foi utilizado pela primeira vez em 1982, no Estados Unidos, pelo ativista e líder político Benjamin Franklin Chavis Jr., e pode ser entendido como um tipo de discriminação racial que acontece no âmbito da formulação e implementação de políticas ambientais, incluindo diferentes tipos de práticas e ações sociopolíticas que se desenvolvem em um contexto de injustiça ambiental e climática – de modo que comunidades marginalizadas, comunidades tradicionais e determinados grupos raciais são os primeiros a serem afetados negativamente ou, então, desconsiderados do processo político em questão.
Noutras palavras: o racismo ambiental está presente desde o momento em que (1) determinados grupos são excluídos, historicamente, de comitês de decisão, de instâncias de regulamentação, de grupos ambientalistas até o momento em que (2) se escolhe determinadas regiões, vinculadas ou próximas a comunidades tradicionais, para instalar indústrias poluidoras, para depositar rejeitos, para desviar o curso de rios e, ainda, no sentido em que (3) são estes grupos e comunidades os que mais sofrem as consequências do descaso com o meio ambiente.
Um exemplo clássico, quando pensamos no contexto brasileiro, é implantação da Aracruz Celulose, para o monocultivo de eucalipto, no final da década de 1960, em terras quilombolas, no Espírito Santo. Esse tipo de prática, infelizmente, é comum e atinge diferentes partes do território brasileiro. Nos últimos anos, o conflito relacionado à posse de terras [um dos conflitos mais antigos e característicos do país] tem aumentado significativamente – diferentes membros de comunidades indígenas, incluindo crianças, têm sido dizimados sem que haja qualquer preocupação por parte do poder público no âmbito do Executivo. É por esse motivo que a aprovação desse projeto representa uma sinalização importante e traz para o debate político a necessidade de se delimitar e controlar melhor as práticas desenvolvidas em unidades de conservação e, principalmente, em territórios indígenas e quilombolas.
O Projeto de Lei tramita em caráter conclusivo e, agora, depois de aprovado na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. Se aprovado na CCJ, o projeto segue para o Senado Federal e, depois, se for o caso, precisa ser sancionado pelo Presidente da República. Lamentavelmente, é pouco provável que Jair Bolsonaro o faça, em especial, tratando-se de um ano eleitoral, já que o combate ao racismo e a luta pela justiça socioambiental nunca foram suas bandeiras.
Todavia, cabe lembrar que o Congresso Nacional pode derrubar o veto presidencial[2] e, neste caso, talvez seja possível manter a esperança e apostar na existência de uma pressão social forte o suficiente capaz de fazer com que isso realmente aconteça. No ano passado, a pressão social fez efeito no caso do PL 510/2021, que levou o Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a retirar de pauta tal proposta que revive aspectos da MP da grilagem de 2020. Portanto, além de confiar na força do movimento ambientalista e das comunidades tradicionais, cabe esperar que parte dos parlamentares já esteja ciente da responsabilidade do Poder Legislativo brasileiro para com a justiça ambiental.
[1] No caso daquelas indústrias que já estão instaladas nas áreas em questão, a renovação da licença de operação ficará condicionada à adoção de medidas que garantam o atendimento aos limites de emissão.
[2] Para rejeitar o veto é necessária a maioria absoluta dos votos de Deputados e Senadores, ou seja, 257 e 41 votos respectivamente. Se registrada uma quantidade inferior de votos pela rejeição em umas das Casas, o veto é mantido (art. 66, § 4º, CF).
Créditos da imagem: Wilson Dias /Agência Brasil